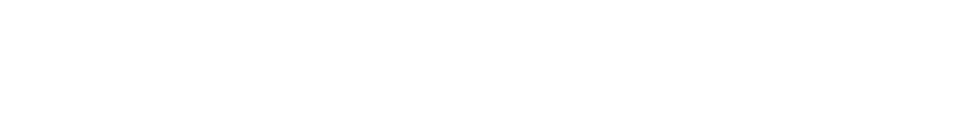“Aqui jaz um cemitério”: a memória da escravidão enterrada no bairro da Liberdade
Região foi construída sobre antigo trajeto de sentenciamento, tortura e execução de negros e indígenas escravizados
Diego Facundini*
No bairro da Liberdade, na região central de São Paulo, coletivos e associações negras e indígenas têm mantido viva uma história de violência e resistência enterrada sob camadas de tijolo e concreto pela modernização da cidade. Trata-se do Movimento dos Aflitos, um agrupamento de mais de 70 entidades e associações, além de ativistas, políticos, pesquisadores e frequentadores da Capela de Nossa Senhora dos Aflitos. O movimento defende e passa adiante as memórias ancestrais do bairro por meio de ações educativas, caminhadas pedagógicas e militância política.
O epicentro dessa luta está na Capela dos Aflitos. Espremida no fim de uma rua sem saída, ela é o último remanescente visível do Cemitério dos Aflitos, uma necrópole que hoje se encontra escondida sob a quadra entre a Rua Galvão Bueno, a Rua dos Estudantes e a Rua da Glória. Nos séculos 18 e 19, era lá onde sepultavam-se os escravizados mortos no Largo da Forca. A forca, por sua vez, ficava onde hoje é a Praça da Liberdade.
O movimento é tema da dissertação de mestrado Ecos da Liberdade: o agenciamento das memórias e identidades negro-indígenas e a herança simbólica institucionalizada sobre a Capela e Cemitério dos Aflitos em São Paulo, do professor Wesley Vieira. O trabalho foi apresentado em 2024 ao Programa de Pós-Graduação em Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades (Diversitas) da USP. Inserido entre os estudos da história e de um turismo crítico, a dissertação trata do agenciamento da memória no bairro por ações de turismo étnico e religioso, de memória e de educação patrimonial. Isto é, dizer como e por quem as memórias negro-indígenas do bairro são geridas.
A luta pela valorização dessas memórias resiste ao apagamento produzido por uma sucessão de projetos urbanos que modificaram o território. Segundo Vieira, a sobrevivência da Capela “não é apenas uma benevolência das elites ou do sistema imobiliário que não a demoliu, mas sim uma permanência do culto a Chaguinhas, à Nossa Senhora dos Aflitos e às Treze Almas”. Hoje, a Capela dos Aflitos está fechada para um restauro há muito tempo reivindicado pela sociedade civil e a previsão é que ela seja reaberta em meados de 2026.
Vieira, além de pesquisador, é membro ativo de uma das organizações do movimento: a União dos Amigos da Capela dos Aflitos (Unamca). Ele atua como tesoureiro e educador, atendendo grupos escolares, turísticos, de professores e da imprensa para contar a história do lugar. Seu envolvimento com a Unamca começou com sua pesquisa, em 2020.
“Bati na porta”, conta, “e a pessoa que me recebeu foi a Eliz Alves, considerada minha mãe, e ela falou que, para poder conhecer melhor a Unamca e essas memórias, eu precisava estar lá”. Logo, começou a frequentar as missas às segundas-feiras, até se tornar voluntário. O pesquisador se colocou em uma posição, como ele mesmo diz, de “pesquisator”. “Ao mesmo tempo que eu estudava essas memórias, eu também divulgava essas memórias, ou seja, de certa maneira eu também me estudava enquanto atuação”, diz Vieira.
De quarto de despejo a “Little Tokyo”
Para estudar a história do bairro da Liberdade, o pesquisador se debruçou sobre documentos históricos como as publicações do Correio Paulistano, disponíveis na Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional, e materiais do arquivo da Cúria Metropolitana. Ele explica que, entre os séculos 18 e 19, o projeto urbano da então Vila de São Paulo de Piratininga era voltado para o norte. “O sul”, Vieira conta, “era o quarto de despejo”.
A região ao sul da Sé, que hoje corresponde aos bairros da Liberdade, da Aclimação, do Bixiga e da Bela Vista, era onde se localizavam os dispositivos de sentenciamento, punição e morte: a Casa de Câmara e Cadeia, o pelourinho e a forca municipal.

As modificações urbanas na Liberdade começaram em 1858, ano em que o Cemitério dos Aflitos foi desativado. Pouco depois, os terrenos dos arredores foram leiloados e ruas foram abertas e alargadas. Antes da virada do século 19 para o 20, a Liberdade era um bairro de casas de operários, em grande parte de imigrantes portugueses e italianos. “A partir dos anos 1920 e 1930, ele também vira um bairro de lugares baratos para a locação, por conta dos porões que havia nas casas”, conta o pesquisador. É nesse contexto que imigrantes japoneses começam a também ocupar o bairro.
“O bairro se torna japonês a partir da década de 1970”, afirma, “por conta do grande número de japoneses aqui existentes e também por um concurso de decoração de bairro, em que os orientais colocaram uma iluminação que lembra as lanternas japonesas”. A ideia, partindo do poder municipal, era de tornar o lugar mais atrativo ao turismo, transformando-o em uma “Little Tokyo”, aos moldes da Chinatown estadunidense. Mais recentemente, locais como a Estação Liberdade e a Praça da Liberdade tiveram seus nomes trocados para, respectivamente, Estação Japão-Liberdade e Praça da Liberdade-Japão.
“A gente passou a ter horas de conversa sobre como essa modernidade imposta para um planejamento técnico, operacional, que geralmente vem do setor público, pode ser quebrada. Então a própria organização dessa caminhada pedagógica, por exemplo, na região, já é uma forma de organização da sociedade civil que se utiliza das brechas para dizer: ‘Olha, existe aqui um patrimônio, nós existimos nesse território, e é importante que a gente conserve e preserve essa memória’”, conta Reinaldo Teles, docente da Escola de Comunicações e Artes (ECA) da USP, que orientou o trabalho.
Como Vieira aponta, em todos esses anos, o Cemitério dos Aflitos nunca passou pelo ritual de dessacralização, segundo o qual o território deixaria de ser um campo santo e seus remanescentes humanos seriam removidos e levados a outro cemitério. Em 2018, a demolição de um sobrado que ladeava a Capela levou à descoberta de um sítio arqueológico contendo nove remanescentes humanos da época da escravidão – mortos de um cemitério que, provou-se, continuava existindo debaixo daquela região.
O terreno onde ficava o sobrado demolido em 2018 foi desapropriado e irá abrigar o Memorial dos Aflitos. Porém, a inauguração não tem data para acontecer. Após uma série de entraves, a obra encontra-se hoje à espera de um novo edital. Resta no local um terreno baldio bloqueado por um grande tapume, no qual Vieira escreveu a frase: “Aqui jaz um cemitério”.
Sentenciamento, punição e morte
Quem caminha pela Liberdade hoje tem debaixo de seus pés aquilo que, entre os séculos 18 e 19, foi o último trajeto por onde passaram escravizados negros e indígenas condenados à morte. O caminho conectava os locais que Vieira chama de “dispositivos de sentenciamento, punição e morte” do sul da Sé.
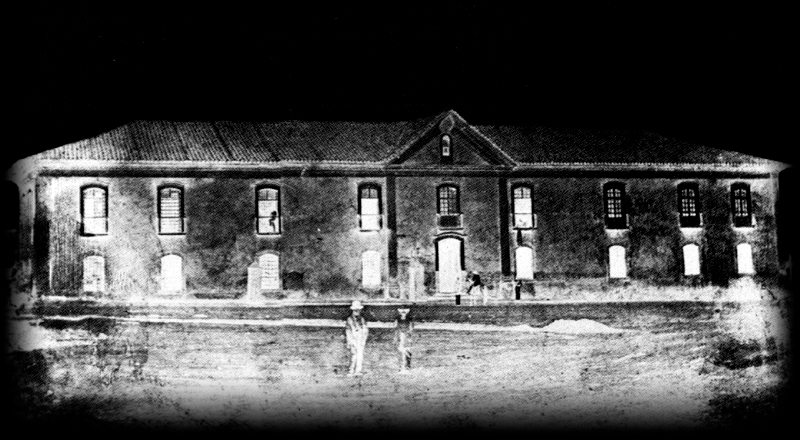
Sentenciamento: a Casa de Câmara e Cadeia. Localizada mais ou menos na atual Praça Dr. João Mendes, era lá que ficavam presas as pessoas condenadas e o ponto de onde partiam. Primeiro, para a Igreja de Nossa Senhora da Boa Morte, na Rua do Carmo, onde iam “para fazer seu último pedido, receber uma refeição, pedir perdão pelos seus pecados e atingir assim, quem sabe, o reino dos céus”, diz o pesquisador. Depois, retornavam ao cárcere, saindo em direção à execução.
Punição: o pelourinho. A tortura era feita onde hoje há o Largo Sete de Setembro, à época chamado de Largo do Pelourinho. “O pelourinho de São Paulo mudou de lugar algumas vezes, assim como a forca, e eles eram bastante vandalizados. Vandalizar, aqui, a gente vai entender como um processo, uma manifestação de resistência dos povos negros e povos indígenas contra aqueles aparatos da majestade, as insígnias da metrópole na colônia”, afirma Vieira. “Pegava-se a rua de trás [relativo à Avenida da Liberdade], que hoje é a rua que tem a Praça Carlos Gomes, continua sendo a mesma rua, e saía-se de frente à Cruz Preta, que hoje é mais ou menos o lugar da Igreja [Santa Cruz das Almas] dos Enforcados”, diz.
Morte: a forca. Existem evidências, segundo Vieira, que, pela proximidade em relação ao Largo da Forca, a pessoa condenada “dormisse a noite anterior na cela da Capela [dos Aflitos] para, na manhã do dia seguinte, ser enforcada”. É o que parece ter acontecido com Francisco José das Chagas, o Chaguinhas, santo popular cultuado pelos devotos da Capela. Um sino da Capela soava quando o condenado era levado à forca, erigida sobre o lugar onde hoje fica a Praça da Liberdade. O outro, quando seu corpo era enterrado no Cemitério dos Aflitos.

O Cemitério dos Aflitos. Inaugurado em 1775, sua consagração só ocorreu mais tarde, em 1779, ano em que a Capela foi construída. Apesar disso, pessoas foram lá enterradas já ao longo desses quatro anos. O cemitério abrigava os corpos de negros e indígenas escravizados, dos suplicados da Santa Casa de Misericórdia (que ficava logo ao lado, na Rua da Glória) e dos condenados à forca. Apesar da escravidão indígena ser formalmente proibida na época, grande parte dos escravizados em São Paulo foram indígenas “administrados”.
*Estagiário sob supervisão de Antônio Carlos Quinto e Silvana Salles
Reportagem publicada no Jornal da Usp e republicada sob autorização.