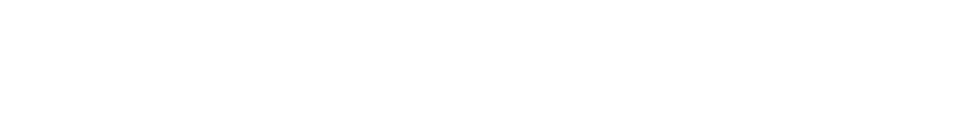Jaime Prades e o Tupinãodá: arte urbana como resistência na transição democrática
Jaime Prades fala sobre sua participação no grupo Tupinãodá, um dos pioneiros do grafite em São Paulo
Por Alexandre Teixeira (texto) e Maialu Ferlauto (fotos)
Jaime Prades define o surgimento do grupo Tupinãodá como um sintoma da transição política dos anos 80. Do processo que levou à abertura. “Esse fim infindável da ditadura militar”, diz. A rua, naquela encruzilhada do tempo político, precisava ser resgatada da sombria condição de “espaço de exibição do espetáculo das forças repressivas”. Prades explica: “Nessa época, tinha toda uma coreografia principalmente da Polícia Militar. Os caras saíam em caravana. Era uma estratégica psicológica de terror”.
Vários coletivos artísticos valiam-se das rachaduras do sistema para se contrapor à selvageria autoritária, mais ligados ao teatro. Nas artes plásticas, havia pioneiros como o 3NÓS3, formado em 1979 por Hudinilson Jr., Mario Ramiro e Rafael França, ativo até 1982, que realizava intervenções urbanas em São Paulo. E impunha-se a necessidade de reconquistar o espaço urbano – razão primária para o surgimento do Tupinãodá, sob a mentoria de um dos grandes nomes da Faculdade de Geografia da USP, o professor Antonio Carlos Robert Moraes, discípulo direto de Milton Santos. “A gente se reunia com ele e pensava a questão do espaço urbano”, conta Prades. “Conforme a gente começou a testar os limites do processo de redemocratização, a gente foi ocupando esse espaço.”
O Ateliê Tupinãodá era na casa de uma ex-namorada de Prades, que fundou o espaço com Zé Carratu, na Vila Madalena. O grupo já existia, com formações variadas e artistas convidados. Sua primeira configuração contava com Milton Sogabe e Eduardo Duar, além do próprio Carratu – que convidou Prades a se juntar a eles seis meses depois do nascimento do coletivo, em meados de 1983. “Eu fiquei de 84 a 89”, lembra ele.
Prades vem de um ambiente familiar cultural. Nasceu na Espanha, em Madri, filho de pai uruguaio e mãe brasileira. Viveu lá até os 12 anos, mas se diz latino-americano, “orgulhosamente, um artista do sul”. “Meu pai mexia com cinema”, conta. Também chamado Jaime Prades, foi para a Espanha como produtor executivo, associado a um empresário americano que tinha uma sociedade com um russo – “uma mistura explosiva”, brinca. O trio construiu o que Prades descreve como um estúdio cinematográfico gigantesco, com o nome do americano: Samuel Bronston Company.
Prades nasceu nesse caldo cultural. Sua casa era frequentada por artistas de todo tipo: atores de teatro e de cinema, cenógrafos, pintores, chargistas, dramaturgos, dançarinos. Seus pais participavam de um condomínio no sul da Espanha só para artistas, onde Prades passou mais de um terço do ano durante os 12 anos em que morou naquele país. “Lá, eu me aproximei de um grande desenhista e cartunista espanhol chamado Antonio Mingote”, lembra. Mingote foi seu padrinho nas artes, a partir dos seis ou sete anos de idade. Com ele, aprendeu desenho, quadrinhos e pintura. Ajudou Mingote a fazer belas pinturas murais, muito antes de pensar que um dia iria se dedicar ao grafite.
A fase aprendiz de grafiteiro, porém, durou pouco. Aos 12 anos, Prades deixou Madri e veio morar em Jacareí, no Vale do Paraíba. “Porque Deus é cruel”, brinca ele.
Desenhos por baixo da porta
Seu pai teve problemas financeiros e separou-se de sua mãe, natural de Jacareí. “Ela veio se proteger com a família dela”, explica Prades. Que saiu daquele ambiente cheio de artistas e se viu preso numa cidade do interior. Sem referências locais, sem amigos, com a família desagregada. Olhando em retrospecto, a arte foi a única coisa que conseguiu manter em meio à ruptura. “A arte, pra mim, não era um projeto profissional”, diz. “Acabou virando, mas se eu fosse ter um projeto estruturado para ser um artista plástico, teria de ter feito muita coisa diferente, porque fui muito fiel ao meu chamado.”
De 1971 a 1975, Prades morou em Jacareí. De lá, veio para São Paulo, com 15 anos de idade e uma ideia na cabeça: conhecer o (naquela época) cartunista Laerte, que tinha um traço parecido com o de Mingote. “Não sei como arrumei o telefone, mas liguei pra ele de um orelhão na Rua Augusta”, lembra Prades. Eles marcaram de se encontrar na Previdência, bairro na Zona Oeste, próximo ao Butantã e à Rodovia Raposo Tavares, onde Laerte morava. Recém-chegado à cidade, Prades se perdeu e chegou na Previdência às dez horas da noite. Não havia ninguém no endereço de Laerte, e Prades não sabia onde estava. Pegou, então, os desenhos que tinha levado e passou-os por baixo da porta. Resultado? “Nunca mais soube do Laerte, nunca mais soube dos meus desenhos”, exagera Prades. Anos mais tarde, quando trabalhava como assistente de arte na Editora Abril, seu caminho se cruzou com o do cartunista. Corria o ano de 1978, e Laerte estava trabalhando na editora Oboré, que surgira de uma conversa dele com o hoje presidente Lula. O profissional que diagramava os jornais da editora era amigo de um amigo de Prades, que morava na mesma república. “Um dia ele não conseguiu ir lá fechar um jornal na Oboré. Me chamaram, porque sabiam que eu trabalhava na Abril”, conta Prades. Três anos depois da visita frustrada à Previdência, ele se viu na sede da Oboré, na frente de quem? De Laerte. Eles trabalharam juntos por quase cinco anos. Prades acabou virando sócio da editora. Viveu uma grande experiência, sobretudo pela cobertura dos históricos movimentos grevistas do ABC, mas quase parou de desenhar.

Quando saiu da Oboré, um encontro com Zé Carratu bastou para levá-lo ao Tupinãodá. “Aí eu passei literalmente dois anos desenhando, pintando; desenhando, pintando; desenhando, pintando, 24 horas por dia”, afirma Prades. Ele, até então, não tinha essa experiência de trabalhar na rua, de grafitar. A única experiência do tipo que tinha tido fora com os murais de Mingote, quando criança. No Tupinãodá, no começo, não foi pintar. “A pegada não era fazer grafite. A gente começou fazendo instalações”, afirma. Antes de sua entrada no grupo, é verdade, Carratu, Duar e Sogabe haviam feito murais. Mas o foco começa a mudar com a chegada de Prades e de um cenógrafo da Mooca, César Teixeira. Nesse momento, Alex Vallauri, absoluto pioneiro do grafite em São Paulo, já era uma figura conhecida, com personagens como a Rainha do Frango Assado. Ninguém ali, porém, interessava-se em copiá-lo. “De 84 até 87, foram três anos em que eu tentei encontrar uma linguagem que funcionasse dentro do espaço urbano”, diz Prades. “E eu encontrei.” A partir de então, houve um boom de criatividade.
Trama do Gosto
Agora enxuto – limitado a Zé Carratu, Carlos Delfino e Prades –, o grupo desenvolveu uma autocuradoria caprichada, que resultou, por exemplo, numa grande exposição na Galeria Subdistrito, a mais descolada de São Paulo naquele momento, antes de se transformar na Galeria Raquel Arnaud. E numa participação na célebre A Trama do Gosto, evento preparatório para a Bienal de 1987, com Carratu, Rui Amaral e Prades. Nem todo mundo gostou.
A ocupação, por vezes agressiva, do espaço urbano não era confortável para determinados setores do circuito das artes. “A gente estava fora do controle desses caras”, afirma Prades. “A gente surgiu que nem uns cogumelos, da noite pro dia, por nossa conta.” Nesse contexto, era importante ter um ateliê próprio como base. “As coisas que a gente fazia na rua exigiam uma estratégia. Não era só chegar pichando. A gente pensava no que fazia, inclusive a ponto de ter pensadores e intelectuais por trás da nossa história.” Antonio Robert Moraes escrevia no fundo do ateliê, dentro do Tupinãodá. É nessa época que Prades desenvolve uma linguagem que muita gente chama de “Máquinas”. Fragmentos que sempre se encaixam. Representando a fragmentação que Prades diz ter experimentado ao longo de sua vida.
Sua participação no Tupinãodá vai até 1989. Naquele ano, Luiza Erundina, recém-eleita prefeita de São Paulo, nomeou para o comando da Guarda Municipal o coronel PM Vicente Silvestre. Militar de carreira, ele atuou na famosa Batalha da Maria Antônia, conflito que envolveu policiais e estudantes em 1968, e resultou na morte do estudante José Carlos Guimarães. Ordenaram que Silvestre invadisse com sua tropa o prédio então ocupado pela Faculdade de Filosofia Universidade de São Paulo. Ele se recusou a fazê-lo sem uma ordem por escrito e acabou substituído. Em 1975, Silvestre foi preso e torturado. Prades o conheceu durante sua passagem pela Oboré, que tinha muita gente ligada ao Partido Comunista. “Quando ele foi nomeado, coincidiu que a gente, no Tupinãodá, estava pensando em ocupar toda a 23 de Maio”, conta. Para isso, era preciso ter guardas cuidando da trupe, e não reprimindo – o oposto absoluto do que existia até então, na prefeitura de Jânio Quadros. “Eu fui lá falar com ele”, lembra Prades. Vicente Silvestre topou, com uma condição: “Vocês virão aqui fazer palestras para educar a tropa em relação à arte urbana”. Era uma oportunidade única, que acabou desperdiçada.
Prades acionou seus contatos na Sherwin-Williams e conseguiu as tintas para os trabalhos na 23. Arrumou também uma Kombi. E combinou com os parceiros de grafite dia e hora para a intervenção. Na data marcada, ele e a Guarda Municipal compareceram. Mas seus companheiros de grupo chegaram muitas horas atrasados.

Foi quando Prades decidiu deixar o Tupinãodá. Logo que saiu do ateliê do grupo, no final de 1989, instalou-se na casa onde mora e trabalha até hoje, na rua Herculano, perto da Estação Vila Madalena do metrô. Em carreira solo, criou personagens, como os Absurdos e os Xamânicos, e séries como Totens e Natureza Humana. A arte urbana, para ele, nunca foi uma religião. “Eu entrei por acidente”, diz. Esteve nessa onda por seis anos, num momento em que o grafite foi parte de um fenômeno que a cidade viveu durante o processo de redemocratização e abertura. Do qual o Tupinãodá participou, trazendo uma linguagem completamente diferente, com um espírito de renovação da cidadania por meio do espaço urbano. Com o final da década de 1980, veio o desejo de reinvenção. De começar outra história. O que não significa que Prades não possa ir agora fazer um trabalho na rua. Mas esse não é mais o seu dia a dia. Sua obra hoje tem valor de mercado. “Demorei muito tempo para construir isso”, diz ele. “Trabalho com duas galerias, estou nas feiras de arte.” Desde aquela infância com o mestre Antonio Mingote, até hoje, sua produção artística é uma linha contínua, apesar das fraturas de sua vida. O momento da arte urbana, do Tupi, é um fragmento desse contínuo, que teve seu começo, meio e fim. Cumpriu um papel de expressão política, de ocupação do espaço urbano naquela contexto. Depois, Prades seguiu sua carreira artística em outros meios.
Mais do que a arte urbana, o que lhe interessa hoje é a ideia da arte em espaços de convivência. O que inclui esculturas públicas; tecnologias tradicionais, como mosaico, e adereços arquitetônicos – entre os quais, inclui-se o grafite, “resultado da pulsão humana pelo ato de se manifestar através da gravação de signos”. Quem passa pela experiência da adrenalina da arte de rua, conclui Prades, muda como artista. Há quem se vicie nessa adrenalina. E há quem reflita sobre a responsabilidade exigida de quem faz arte em espaços públicos. “De certa forma, você está obrigando as pessoas a ver.”
Leia também: Rui Amaral: do grafite marginal ao museu a céu aberto