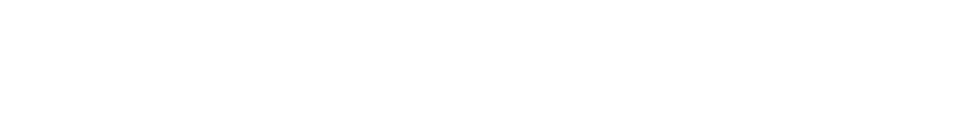Vida em comunidade, pertencimento e minha casinha em Parelheiros
A partir de recordações de conversas com a cantora portuguesa Amália Rodrigues e a atriz Ruth de Souza, Ivam Cabral reflete sobre ideia de pertencimento que, a partir do olhar coletivo, faz com que as coisas mudem e determinem comportamentos
Por Ivam Cabral
Eu penso que Denize Bacoccina e Clayton Melo, editores deste A Vida no Centro, esperavam mais de mim quando me convidaram para criar uma coluna neste espaço. A ideia inicial era falar de assuntos que se relacionassem com a cidade de São Paulo e eu, já no primeiro texto, os traí, trazendo lembranças da Ucrânia e, em na coluna posterior, de Lisboa, da época em que vivi em Portugal.
Então, talvez porque tenha aberto uma porta para as reminiscências, venho mais uma vez falar deste tempo em que Lisboa era a minha casa.
Involuntariamente, mas é bom avisar que na sequência do tema de hoje, virão outras sob a mesma matéria. Não sei se é porque, assumo aqui, sou monotemático – canceriano na astrologia ocidental e gato no horóscopo chinês – ou se é porque, aprendi, não se brinca com Mnemosine, a titânide.
Mas para fazer um paralelo com cidades e urbanidade – e também para deixar os editores aqui mais alegres –, começo lembrando que em 1998 eu estava em cartaz no Teatro Glória, no Rio de Janeiro, com uma adaptação bastante passional de “Medea”, a partir do mito grego, e conheci Ruth de Souza. Atriz com uma trajetória extraordinária, a conheci no hall do Hotel Glória, onde eu estava hospedado.
Dona Ruth havia terminado um ensaio de uma peça que estava sendo preparada numa das salas do hotel e esperava que a chuva passasse, quando eu fui conversar com ela.
A gente acabou se entusiasmando com o parlatório e foi tomar um café no restaurante do hotel. Conversamos por algumas horas e foi, de verdade, uma tarde muito, muito especial.
Me lembro que fiquei encantando com o Rio de Janeiro dos anos 1950, 1960 e 1970 que dona Ruth me apresentou. Contou que, nessa altura, vivia em Copacabana, como a maioria de seus amigos.
— Ah, o Rio de Janeiro era outro Rio de Janeiro. Ninguém fechava a porta. Era comum chegar em casa, depois de um dia exaustivo de trabalho, e encontrar na sala os amigos que estavam passando por ali e entravam para nos esperar, porque sabiam que a gente já estava chegando. A casa do Vinicius, na Avenida Henrique Dumont, em Ipanema, era uma festa e, durante todo o tempo em que viveu ali, a porta de sua casa nunca teve chaves.
Até hoje me recordo dessa conversa com uma sensação gostosa de liberdade. Vida em comunidade que se diz, não é? E é mais ou menos assim que eu vivo em Parelheiros, hoje. Nunca fecho as portas de casa com chaves e, no verão, durmo com as janelas abertas. A diferença é que, embora a minha casa fique no meio do mato e não tenha vizinhos muito próximos, vivo em um condomínio, então a liberdade, sempre soube, é conquistada através do boleto que chega todo início do mês.
No início dos anos 1990 eu vivia em Portugal, considerado hoje um dos cinco países mais seguros do mundo. Imagino que nada muito diferente do que era naquela época em que vivi por lá. A segurança deixa a gente em um estado próximo à inocência. Sem culpados, não se tem muito o que temer. Sem medo, não precisamos desenvolver mecanismos de defesa e a vida pode sempre seguir com muito mais afetividade.
Em 1994, Amália Rodrigues era a maior cantora e atriz portuguesa, conhecida e admirada no mundo todo e vivia em Lisboa. Um dia, em reunião com amigos e falando justamente sobre a vida tranquila do povo português e para provar a minha teoria, eu ligo para o número de auxílio à lista telefônica e peço o número de Amália que, segundos depois, me é passado pela atendente. Não podia prever, na verdade, o desdobramento dessa história que prova, mais uma vez, a minha teoria a respeito de segurança.
Então eu faço uma chamada para aquele número que me foi passado pela telefonista da antiga Portugal Telecom e, para a minha surpresa, é a própria cantora quem atende. Meu coração está na garganta, mas consigo manter uma conversa minimamente decente. Explico que sou brasileiro, vivendo temporariamente em Portugal e, depois de uns dedos de prosa, sou surpreendido pelo convite inusitado:
— O menino não quer tomar um chá comigo? Na quarta-feira?
Eu deliguei o telefone sem acreditar no que acabara de ouvir. Mas foi exatamente assim que, uns dias depois daquele telefonema, eu me dirigi à rua de São Bento, no Rato, ao pé do Príncipe Real, zona nobre da cidade, e me encontrei com uma das mulheres mais incríveis do planeta.
Me lembro bem, era inverno e a fumaça e o cheiro das castanhas assadas na brasa pelo centro da cidade ainda hoje me trazem uma sensação de leveza. Cheguei, como combinado, pontualmente às 15h e saí de lá depois das 18h, quando já anoitecia.
Amália, me tratando como se eu fosse um príncipe, me revelou naquela tarde, era agradecida ao povo brasileiro.
— O Brasil me descobriu primeiro.
Sua casa era enorme e ela me mostrou muitos dos cômodos, os prêmios que ganhou mundo afora, muitas fotografias – de sua família, inclusive – e até cartas de fãs brasileiros que se correspondiam com ela há anos.
Infelizmente, não tiramos nenhuma foto desse encontro e esta é uma das grandes tristezas da minha vida inteirinha. Aliás, nem com a dona Ruth eu tenho qualquer imagem. Outros tempos, aqueles…
Mas eu vim aqui para falar de cidades – o pantopolista do título desta coluna significa cosmopolita; que se refere a todas as terras ou a todas as cidades – e, talvez, o mais importe dessas recordações todas é pensar que a vida, enfim, pode fazer sentido quando tomamos a urbe com singularidade.
Neste caso, o espaço público que, senso comum, é de ninguém, passa a ser de propriedade de quem o toma para si, em relação direta com todas as suas potencialidades. Agora eu ligo os pontos entre as histórias de dona Ruth, de Amália e da minha casinha no meio do mato. Explico.
Tanto aquele grupo de amigos artistas do Rio de Janeiro, do qual dona Ruth de Souza fazia parte, quanto o modo de vida da diva portuguesa e até a minha casinha em um condomínio em Parelheiros, só ditam ou ditaram suas regras porque fazem ou faziam parte de alguma coisa, de um grupo ou, no caso de Amália, de uma nação inteirinha.
Um atestado absoluto de uma ideia de pertencimento que, a partir do olhar coletivo, faz com que as coisas mudem e determinem comportamentos. Mesmo que, no caso da minha casinha em Parelheiros, a vida em comunidade custe a taxa do condomínio do meu residencial.
LEIA TAMBÉM
Fernanda Torres, Jefferson Del Rios e Os Satyros em Lisboa
A Ucrânia da liberdade e da esperança
Rezar em São Paulo, uma crônica de Ivam Cabral
Marcio Aquiles: vamos falar sobre teatro e livros?