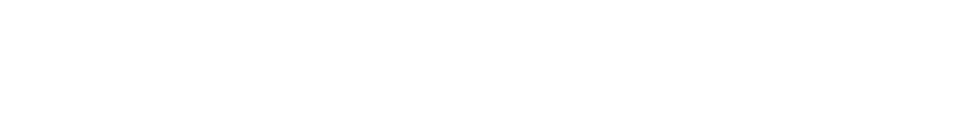Thaíde: “O Centro sempre foi o lugar onde a negritude se encontrava e ainda se encontra”
O rapper Thaíde, um dos pioneiros do Hip-Hop no Brasil, é um dos curadores da exposição que conta a história do movimento no Sesc 24 de
Clayton Melo
O rapper, DJ, cantor, compositor, dançarino, ator, apresentador e produtor Thaíde estava lá quando o Hip-Hop nasceu, no início dos anos 1980, e se tornou uma das principaisa vozes de todo o movimento de visibilidade para a cultura negra brasileira. Altair Gonçalves, nascido em 1967 na Vila Missionária, é um dos curadores da exposição HIP-HOP 80’sp – São Paulo na Onda do Break, em cartaz no Sesc 24 de Maio, que conta essa história com objetos, fotos, roupas, discos e muitos outros elementos.
LEIA TAMBÉM:
Juneca: da pichação ao grafite
Pagu: arte não é privilégio
Nesta entrevista exclusiva ao A Vida no Centro, Thaíde fala sobre o início do movimento, sua importância para a comunidade negra brasileira e lembra a emoção que sentiu quando viu pela primeira vez na TV uma pessoa dançando break.
Por coincidência, o Sesc 24 de Maio fica bem em frente a um espaço icônico da cultura Hip-Hop: a esquina da Rua 24 de Maio com a Rua Dom José Gaspar, local de encontro de uma juventude ávida por informações e que precisava se encontrar para saber o que estava acontecendo. “O centro da cidade sempre foi o lugar onde a negritude se encontrava, se encontrou e se encontra”, afirma.
O break é uma expressão muito importante e que está na origem da cultura hip-hop. Como começou sua relação com o break?
Eu vi uma imagem na TV de uma pessoa dançando break. E nessa imagem, quem fazia a narração dizia que a nova mania, a nova moda, a nova onda dos norte-americanos era uma dança chamada break. E tinha uma pessoa girando de costas. Foi instantâneo! Quando eu vi essa imagem, foi automático pra mim. Eu falei: preciso aprender a fazer esse tipo de coisa. Mas não imaginava que era uma dança que fazia parte de uma cultura tão grandiosa, que é a cultura hip-hop. E que, além daquele giro de costas que eu tinha visto na TV, tinha muito mais movimentos, muito mais coisas pra fazer.
Isso foi em que ano?
A gente está falando de 1982.

E a esquina da Rua 24 de Maio com a Dom José de Barros está na origem do hip-hop em São Paulo. Como era a cena naquela época?
Aqui nós temos a Rua 24 de Maio, em frente às grandes galerias, hoje conhecida como a Galeria do Rock. E aí ao lado, bem perto, uma galeria mais black, digamos assim (Galeria Presidente). Porque aqui tinha os cortes de cabelo afro, black power. As pessoas vinham aqui pegar panfletos de bailes. Aqui rolava o encontro da negritude da época, que gostava de curtir o baile pra se informar, já que não existia internet. A maneira de se informar era no boca a boca, porque TV, rádio, jornal, revista não divulgavam a cultura negra naquela época – inclusive hoje, digamos assim. As informações eram passadas no boca a boca. Então as reuniões eram feitas aqui. Tanto na 24 de Maio como também ali em frente ao antigo Mappin, em frente ao Theatro Municipal. O centro da cidade sempre foi o lugar onde a negritude se encontrava, se encontrou e se encontra.
A forma de se comunicar e saber das coisas era vindo para as rodas de break no Centro, né?
Hoje, você quer saber alguma coisa? Vai pro seu celular, seu computador, você tem tudo ali, tem até a localização do lugar. Mas na época não tinha nada disso. Ou você saía da sua casa pra ir até o local pra ficar sabendo do que rolava, ou você não ficava sabendo de nada, ficava de fora da situação. Era muito no tête-à-tête.

Você também viu toda a cena da pichação e do grafite nascendo. Como você vê a relação da arte urbana com o hip-hop?
É muito louco porque antes do colorido do grafite e do hip-hop, eu já via manifestações gráficas também nos muros feito pelo Juneca (artista visual, um dos pioneiros do grafite no Brasil). Falei pra ele outro dia: eu me lembro que eu passava de ônibus e via muito nos muros “Juneca e Pessoinha”, e logo depois tinha “Cão Fila”, pra todo lado. Eu ficava pensando: o que isso? O quer dizer? Eu não sabia, e independentemente do termo que se usa para esse tipo de arte, eu já entendia que era um tipo de comunicação. As pessoas estavam usando ali um spray para poder dizer o seu nome, uma marca pessoal ou alguma coisa parecida. Foi a partir da cultura hip-hop que eu entendi que até mesmo essa arte de escrever na parede, que muitos chamam de pichação, é uma maneira de comunicação, de se expressar. “Ninguém sabe quem eu sou, mas você vê que eu existo a partir do momento que eu rabisco esta parede.” É contracultura? Sim, mas só assim pra gente ser visto, escutado e notado.

Mais de 40 anos depois de tudo isso, o que você destacaria como maiores conquistas e avanços no movimento black, tanto na música e como na cultura?
Eu poderia ir no básico e dizer ´olha, as conquistas são essas, quantas pessoas famosas nós temos hoje, olha quantas músicas tocam`. Mas acredito, na minha opinião solitária, talvez, que nossa maior conquista é o espaço que conquistamos. Porque quantos caíram, quantos não conseguiram ver a sua arte exposta? Quantos músicos acabaram sem ter sua música tocada no rádio? Sem ter credibilidade, muitas vezes até com a própria família? Então acredito que a maior conquista do negro brasileiro sejam os espaços que conquistamos. Se você for pra Bahia, se você for pra Belo Horizonte, Rio de Janeiro, não importa pra onde você vá, você vai ver a cultura negra sendo exposta de qualquer maneira: seja na rua, num lugar pequeno ou numa grande exposição, nós estaremos lá. E você pode ver isso também nas músicas. Por mais que se possa não gostar. Nas roupas, por mais que também se possa não gostar. Estamos aqui. Estaremos para sempre. Tem uma foto aqui na exposição que diz muito sobre o que estou falando: (Thaíde aponta uma foto e traduz a frase em inglês) “pare, olhe, escute: nós somos os filhos do gueto e vamos sobreviver. E nós estamos vivos”.